Djavan – O Musical: Vidas pra Contar
Antes mesmo de se apresentar como narrativa biográfica, Djavan – O Musical: Vidas pra Contar se oferece ao público como promessa de reencontro afetivo. Não necessariamente com o homem por trás da obra, mas com a memória sonora, emocional e geracional que sua música construiu ao longo de décadas. A expectativa, sobretudo para quem chega atravessado por experiências recentes de maior impacto emocional no teatro musical, é a de que esse encontro seja também transformador. O que se percebe, no entanto, é uma escolha clara por um caminho de conforto, reconhecimento e celebração sem fricção.
O espetáculo pode ser lido menos a partir da pergunta sobre aquilo que lhe falta em termos de conflito dramático e mais a partir daquilo que escolhe preservar. Essa escolha não é casual. Ela revela tanto uma determinada imagem pública de Djavan quanto as engrenagens simbólicas e mercadológicas que sustentam os musicais biográficos na cena contemporânea. Idealizado por Gustavo Nunes, com texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França e direção artística de João Fonseca, o projeto assume desde sua origem uma vocação celebratória, na qual a dramaturgia e os dispositivos cênicos trabalham menos para tensionar a biografia e mais para consagrá-la como patrimônio afetivo e cultural.
Sob esse prisma, a suavidade dramatúrgica deixa de ser apenas um problema narrativo e passa a operar como gesto político. Ao evitar crises explícitas, embates ideológicos contundentes ou rupturas emocionais profundas, a montagem se alinha à ética pública construída por Djavan ao longo de sua trajetória, a de um artista que sempre protegeu sua interioridade e resistiu à lógica do confessionário, tão recorrente na cultura midiática contemporânea. O musical, portanto, não falha em escavar a intimidade do artista; ele encena a impossibilidade, ou mesmo a recusa, dessa escavação. A direção de João Fonseca reforça esse pacto de harmonia ao conduzir a narrativa com fluidez e evitar fricções que poderiam desestabilizar essa imagem conciliada.
Essa recusa, no entanto, não é neutra. Ela se articula diretamente com uma indústria cultural que transforma trajetórias artísticas em produtos de consumo afetivo e que, para isso, precisa equilibrar profundidade e acessibilidade. O espetáculo opta por um caminho conciliador. Apresenta a ascensão de um artista negro nordestino em um país marcado por desigualdades estruturais, mas o faz sem tensionar frontalmente as forças sociais e políticas que atravessaram esse percurso.
A ditadura militar surge como pano de fundo difuso; o racismo estrutural aparece de modo episódico; os conflitos de classe são rapidamente resolvidos pela narrativa do talento reconhecido. A cenografia de André Cortez e a iluminação de Daniela Sanchez reforçam essa operação ao construir espaços mais simbólicos do que concretos, favorecendo uma atmosfera quase mítica e atemporal, em detrimento de uma materialidade histórica mais incisiva.
Do ponto de vista psicológico, essa escolha produz um Djavan menos atravessado por contradições internas e mais próximo de um arquétipo sereno. A presença de Elegbara, interpretado por Milton Filho, é decisiva nesse desenho. Não se trata de dramatizar o inconsciente como campo de conflito, mas como território de proteção ancestral, equilíbrio e destino. A espiritualidade afro-brasileira não atua como força de ruptura, mas como eixo de continuidade. A criação artística surge, assim, menos como resposta a fraturas traumáticas e mais como expressão de uma herança cultural profunda. A coreografia e direção de movimento de Marcia Rubin, em diálogo com o visagismo de Sidnei Oliveira, consolidam essa corporeidade ritualizada, na qual o gesto cênico funciona como invocação e não como confronto.
No campo da coreografia, o espetáculo opta por uma solução funcional, porém contida. Os movimentos são executados majoritariamente pelos próprios atores, em arranjos que cumprem a tarefa de acompanhar a música, mas raramente a expandem no espaço cênico. A ausência de um corpo coreográfico mais numeroso e organicamente integrado à encenação priva o musical de uma dimensão coletiva capaz de traduzir, em movimento, a densidade rítmica e afetiva da obra de Djavan. Não se trata de reivindicar uma linha de coro nos moldes da Broadway, mas de reconhecer que o teatro musical se afirma plenamente quando a música encontra no corpo múltiplo, pulsante e por vezes invasivo uma força dramatúrgica autônoma. Ao permanecer no registro ilustrativo, a encenação abdica de uma potência coreográfica que poderia tensionar e ampliar a experiência sensorial do espetáculo.
No campo das relações afetivas, a mesma lógica de preservação e conciliação se impõe. As personagens femininas cumprem funções simbólicas centrais, mas raramente alcançam densidade individual plena. Dona Virgínia, vivida por Marcela Rodrigues, encarna a matriz moral do sacrifício e da fé. Aparecida, interpretada por Thainá Gallo, representa a parceria silenciosa que sustenta o sonho do outro. Rafaella surge como figura de passagem, quase abstrata. Essa abordagem pode ser compreendida como limitação dramatúrgica, mas também como reflexo de um imaginário social que historicamente posiciona as mulheres como fundamento invisível das trajetórias masculinas. Ao não tensionar criticamente esse padrão, o musical termina por reproduzi-lo.
É no campo musical que o espetáculo concentra grande parte de sua força expressiva. A direção musical de João Viana e Fernando Nunes, aliada aos arranjos e à preparação vocal de Jules Vandystadt, constrói um ambiente sonoro que reafirma a obra de Djavan como núcleo afetivo da encenação. Raphael Elias, no papel-título, sustenta a figura central com solidez vocal, timbre preciso e presença cênica que, em diversos momentos, faz desaparecer a mediação do intérprete. O elenco, que inclui Aline Deluna como Maria Bethânia, Tom Karabachian como Caetano Veloso, Gab Lara como Chico Buarque, além de Alexandre Mitre, Douglas Netto, Ester Freitas e outros intérpretes em múltiplos papéis, atua majoritariamente como um coro narrativo. Em algumas dessas aparições, no entanto, a opção por registros caricaturais e pela provocação do riso imediato desloca a cena para códigos de humor televisivo de fácil assimilação. O efeito é instantâneo e eficaz junto à plateia, mas fragiliza a ambição dramatúrgica ao reduzir figuras complexas da música brasileira a esquetes reconhecíveis, mais próximas da paródia do que da elaboração cênica.
Nesse sentido, Djavan – O Musical: Vidas pra Contar revela menos as contradições de um artista e mais os limites de um modelo de musical que privilegia a celebração conciliada em detrimento do risco cênico. A música permanece soberana, mas raramente se desdobra em corpo, e quando o faz evidencia o quanto uma presença coreográfica mais incisiva poderia potencializar o espetáculo. Não se trata de exigir padrões importados, mas de reconhecer que o teatro musical, enquanto arte multidisciplinar, se realiza plenamente quando som, movimento e dramaturgia se tensionam mutuamente. Ao optar pela fruição confortável, o espetáculo fala tanto de Djavan quanto de um país que prefere celebrar seus ícones sem permitir que eles desorganizem a cena ou a plateia.
Ao final, o musical se afirma menos como um retrato psicológico aprofundado e mais como um ritual de consagração. Sua força não reside na revelação do homem por trás da obra, mas na reafirmação da obra como patrimônio afetivo coletivo, cuidadosamente protegido de fissuras mais abruptas. Sustentada por uma engrenagem técnica eficiente e por escolhas estéticas coerentes entre si, essa opção impõe limites claros a quem espera uma dramaturgia mais incisiva, atravessada por conflito e risco. Em contrapartida, ajuda a compreender a resposta calorosa do público, convocado não à inquietação, mas ao reconhecimento. O espetáculo, assim, não tensiona a memória cultural, a harmoniza. É precisamente nesse gesto de preservação que se inscrevem, de modo indissociável, sua eficácia emocional e sua contenção crítica, revelando tanto o alcance quanto as fronteiras de um teatro musical que opta por celebrar antes de interpelar.
Por Mauro Senna
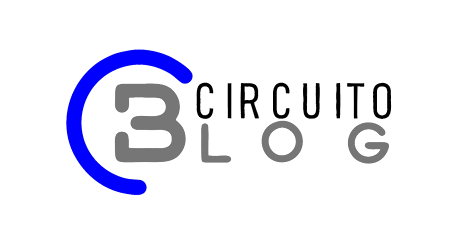



Comentários
Postar um comentário