Vermes Radiantes
Na montagem brasileira de Vermes Radiantes, de Philip Ridley, aquilo que à primeira vista soa como uma sátira do mercado imobiliário logo se revela como uma comédia sombria, onde o riso escorrega para a beira do abismo. Com direção de Alexandre Dal Farra, a encenação desnuda o fosso entre sonho e realidade com humor mordaz e uma estética que provoca, inquieta e reverbera como uma ferida exposta.
A narrativa se cola a um jovem casal, Ollie e Jill, grávidos e famintos por uma estabilidade que nunca chega. Eles aceitam do governo um presente envenenado: uma casa reluzente, mobiliada, mas atada a “condições” grotescas e inconfessáveis. O que se arma é um conto de fadas putrefato, onde o preço do conforto material se paga em sangue, culpa e complacência. O riso, cúmplice e desconfortável, se torna inevitável.
Rui Ricardo Diaz e Maria Eduarda de Carvalho dominam o palco como criaturas mutantes, deslizando entre identidades com energia febril, versatilidade inquietante e um timing cômico que beira a crueldade. São o casal à beira do colapso, mas também vizinhos caricaturais, espectros grotescos e máscaras sociais em desfile, como se o palco fosse um espelho rachado de uma comunidade apodrecida. Cada troca de personagem materializa a vertigem moral que sustenta a narrativa. Marco França costura a atmosfera com direção musical e aparições pontuais que soam como golpes de ironia, expandindo o absurdo até que ele se torne quase insuportavelmente real.
A direção de Dal Farra não busca polir os cantos ásperos do texto ao contrário, afia suas bordas até que arranhem o espectador. O grotesco é celebrado como ferramenta de crítica social, sempre atravessado por um humor corrosivo que persiste mesmo (ou sobretudo) quando o riso se mistura ao desconforto. A encenação aposta numa aparente simplicidade, quase minimalista, como quem retira o excesso para expor a carne viva. Ainda assim, há uma sofisticação visual que se infiltra pelas frestas, revelando que até a crueza pode ser meticulosamente arquitetada.
A cenografia de Stéphanie Fretin e Camila Refinetti se apoia em linhas simples e elementos mais funcionais do que estéticos. Nada ali pretende seduzir o olhar: a mobília e os poucos acessórios cênicos soam quase improvisados, como arrancados de um cotidiano precário gesto consciente de linguagem que projeta no palco a casa-sonho como ruína anunciada. A iluminação de Lucas Brandão que também assina a preparação de elenco e assistência de direção mergulha a cena em cores saturadas e contrastes violentos, até que o lar se revele como a própria antessala do inferno.
João Marcos de Almeida, no figurino, acentua o comentário sobre o fetiche da aparência e da ascensão social. As roupas parecem arrancadas de um catálogo de revista de moda de gosto duvidoso, carregando uma maldição silenciosa costurada em cada detalhe. Esse verniz de sonho se racha até expor o horror escondido sob a superfície brilhante do consumo e da busca insaciável por estabilidade.
No centro da experiência lateja a pergunta que ultrapassa o palco: até onde você iria para assegurar o seu lugar no mundo? Em tempos de crise habitacional, desigualdade gritante e precarização da vida, a resposta não soa distante pelo contrário, ronda o espectador com inquietante familiaridade.
Vermes Radiantes não é apenas uma comédia sobre casas. É uma parábola cruel e hilariante sobre a falência ética de uma sociedade que confunde segurança com propriedade e amor com mobília de design. Uma fábula do século XXI: ácida, venenosa e necessária.
Por Mauro Senna
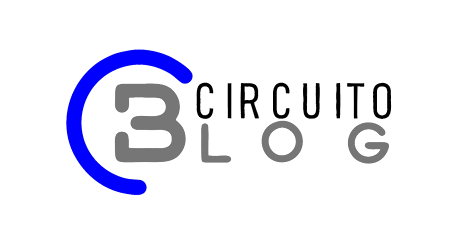



Comentários
Postar um comentário