"Os Roses: Até Que a Morte os Separe" é um Alerta: O Amor Pode Ser uma Guerra Sem Sobreviventes
Há filmes que retratam o amor como um jardim que floresce com o tempo. Os Roses: Até que a Morte os Separe é o oposto: um campo minado emocional onde cada passo pode arrancar membros ou, no mínimo, a sanidade. É um ataque frontal à instituição do casamento, conduzido com a ferocidade de uma guerra santa e a ironia ácida de quem já não acredita em reconciliação, nem mesmo sob a mira de um fuzil emocional.
Baseado no romance de Warren Adler — o mesmo que já nos deu o infernalmente destrutivo A Guerra dos Roses (1989) —, este remake assina um pacto de sangue com o caos. A direção, carregada de veneno e sarcasmo, não tenta dourar a pílula: transforma o lar conjugal em um bunker onde ressentimento e vingança são munições de uso diário. O resultado é uma ópera bufa de destruição mútua, tão corrosiva quanto inevitável.
Theo (Benedict Cumberbatch, em sua mais passivo-agressiva performance até hoje) é um arquiteto de ego tão frágil quanto suas próprias construções. Ivy (Olivia Colman, sublime em sua amargura imaculada) é uma chef de talento impecável, mas que transforma sua cozinha em um campo de batalha — não apenas com receitas, mas com palavras afiadas como lâminas de sushi. Juntos, formam um casal cuja intimidade é combustível para uma guerra que não conhece tréguas.
O que começa como faísca sexual em uma câmara frigorífica logo se degrada em uma guerra fria doméstica, com emboscadas emocionais no corredor e ataques surpresa durante o jantar. O filme, em seus primeiros atos, até finge que há espaço para redenção. Não há. E nem deveria haver. Não se trata de um conto de fadas moderno, mas de um divórcio nuclear, munido de armamento emocional não convencional e detonações sucessivas.
O filme é sustentado pelo peso de seus protagonistas. Olivia Colman encarna Ivy como uma leoa ferida que ainda sabe manejar talheres de prata como estacas cravadas no coração do marido. Sua performance equilibra fúria e precisão cirúrgica, transformando cada gesto em um ataque milimetricamente calculado. Benedict Cumberbatch, por sua vez, entrega talvez a mais covarde — e paradoxalmente intensa — atuação de sua carreira: um homem esmagado não pelo fracasso em si, mas pelo suplício de continuar fingindo relevância em um palco doméstico que já não o tolera.
Allison Janney, na pele da advogada de divórcio, é a única que parece ter lido o manual de instruções desse massacre conjugal. Com sangue nos olhos e sarcasmo na língua, trata cada audiência como espetáculo circense, enquanto o casal se devora em praça pública. O restante do elenco serve apenas como adereço, figuras tão decorativas quanto retratos de família emoldurados em uma sala prestes a pegar fogo, belas superfícies à espera da inevitável fuligem.
A estrutura narrativa insiste no mesmo compasso, como um tambor de guerra amaldiçoado: insulto, revanche, insulto mais cruel, revanche ainda mais violenta. O ciclo, inicialmente hilariante em seu sadismo, vai se desgastando até que o riso se converte em desconforto. A diversão cede espaço à reflexão amarga. Em certo ponto, você já não torce por ninguém, só deseja que a casa imploda com os dois dentro. E, mesmo assim, talvez não seja suficiente.
Os Roses é uma obra declaradamente misantrópica, cruel até a medula e, paradoxalmente, engraçadíssima em sua crueldade, como rir num funeral quando a viúva tropeça no caixão. É o tipo de filme que deveria ser exibido em cartório antes da assinatura do casamento civil. Não como alerta, mas como aviso: “É isso que você realmente quer?”
Se você é casado, vai reconhecer seus próprios demônios dançando na tela. Se é solteiro, sairá da sessão com a sensação de ter escapado de um culto. E se estiver cogitando o casamento… assista duas vezes.
Aviso final: este não é um romance com pitadas de comédia. É uma guerra travestida de romance. E, como toda guerra, ninguém sai inteiro. Nem mesmo o espectador.
Por Mauro Senna
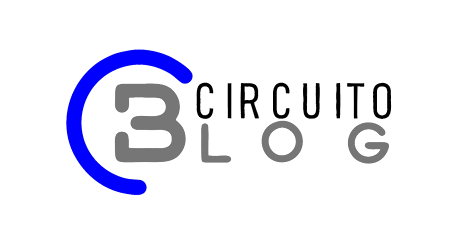



Comentários
Postar um comentário