Território do Amor
Pela ordem natural das coisas, um grande espaço teatral tem tudo para acolher um grande espetáculo. As expectativas são generosas diante da ocupação paulatina da plateia, enquanto, no palco, à frente do pano de boca, fragmentos remetendo a uma embarcação anunciam o que está por vir.
Ao terceiro sinal, a boca de cena se descortina, revelando outros elementos náuticos. O palco ganha tons de art déco, com uma escadaria suntuosa — digna da circulação de grandes estrelas — que se impõe diante de um fundo de cena dominado por uma estrutura que remete a uma gigantesca chaminé. É essa imagem que permite ao espectador atribuir àquele cenário a identidade de um navio de cruzeiro.
Centralizada no pano de fundo, uma imensa lua reflete a luz solar em meio à nebulosidade que paira sobre um firmamento noturno e sobre um mar plácido, silencioso, quase pictórico. Uma atmosfera serena e hipnótica — prestes a ser rompida pelo despertar de personagens, como zumbis que emergem em busca das razões de sua presença ali.
Assim, cruzam o oceano do inconsciente, como espectros de mulheres que um dia se tornaram símbolos do amor em sua forma mais dilacerante.
Mas onde há vestígios de amor há sempre a presença — ainda que evocada — de um “outro”. É nesse contexto que surge o único elemento masculino da cena — uma figura que representa, ao mesmo tempo, o ser amado por cada uma daquelas mulheres e o eco de suas escolhas passionais. Ele está ali não como protagonista, mas como testemunha de um amor que tantas vezes foi desmedido, mal correspondido ou devastador. Um amor que cegou algumas, turvou o olhar de outras — mas que, por isso mesmo, moldou suas vozes, seus mitos, seus destinos.
Mesmo ausentes do mundo dos vivos, essas mulheres se fazem eternas: não apenas pela dor que viveram, mas pela música que deixaram. E é através desse corpo masculino, solitário e deslocado, que o espetáculo tensiona a fronteira entre presença e ausência, entre escuta e silêncio, entre o lado de dentro da paixão e o lado de fora — onde está o espectador. Onde estamos todos nós.
Aqui cabe um pedido de desculpas ao leitor, ao espectador em potencial, ao autor do texto e ao diretor do espetáculo. Este prólogo, incomum em uma crítica teatral e quase um spoiler, se viu compelido a discorrer sobre um trabalho de preparação tão meticuloso que seria um desserviço ignorá-lo.
Trata-se de Território do Amor, musical construído a partir do texto de Gabriel Chalita, sob a direção de José Possi Neto e direção musical de Daniel Rocha. Um espetáculo que recusa o brilho fácil e aposta no abismo, rejeita a narrativa linear e desestabiliza o estado de conforto.
O que se apresenta no palco não é apenas uma encenação. É um rito — dolorosamente belo, profundamente inquietante.
O que, num primeiro momento, poderia soar inverossímil, revela-se absolutamente natural no palco: Elizeth Cardoso, Maysa, Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Maria Callas, Barbara, Edith Piaf, Mercedes Sosa e Marlene Dietrich compartilham um mesmo território emocional — onde o tempo e a nacionalidade se tornam irrelevantes.
A travessia que empreendem é menos geográfica do que íntima. Conduzidas por um barqueiro simbólico (vivido por Marco França), essas mulheres não estão indo a lugar nenhum — estão sendo levadas de volta a si mesmas.
O texto de Gabriel Chalita é carregado de lirismo — mas também de sombras. Há nele uma dramaturgia emocional mais forte do que qualquer enredo. O espectador é arrastado não por ações, mas por confissões, cantos e silêncios.
José Possi Neto compreende isso e conduz o espetáculo com um respeito quase ritualístico. Seu olhar é o de quem observa fantasmas com reverência — ou medo.
No elenco, cada atriz não apenas representa uma cantora, mas canaliza seu universo emocional.
Badu Morais é uma Elizeth Cardoso de contenção e dignidade ferida, que canta como quem segura a dor com um lenço rendado. Neusa Romano transforma Maysa em uma presença magnética e instável, quase violenta em sua entrega. Ju Romano, como Dalva de Oliveira, mistura mágoa e esperança com uma voz que parece estar sempre à beira do colapso — e é precisamente isso que emociona.
Larissa Goes, como Dolores Duran, oferece doçura e resignação por parte de uma mulher que não grita, mas desiste, lentamente. Bianca Tadini entrega uma Maria Callas gélida, estilhaçada por dentro, onde cada nota soa como julgamento. Já Daniela Cury, no papel da enigmática Barbara, é quase uma presença espectral — sua força está nos silêncios.
Fernanda Biancamanno, como Edith Piaf, carrega o peso do mundo em miniatura. Sua Piaf não está em cena: está em luto. Tatiana Toyota, como Mercedes Sosa, é uma rocha em forma de canção. Sua performance impressiona pela contenção política e espiritual. Por fim, Maria Clara Manesco dá à Marlene Dietrich um erotismo sombrio, onde cada gesto carrega ameaça e fascínio.
Como figuras de proa, quase mitológicas, que surgem a cada modificação do layout do convés ou sempre que a cena exige a soma de vozes, o coro do Instituto Baccarelli — formado por jovens cantoras (Gabriela Lira, Luciana Lira, Bárbara Viana, Duda Garcez, Gabriela Evaristo, Gabrielly Neves) — empresta seus acordes vocais às cenas como ecos, sombras ou ancestrais dessas vozes maiores.
Sua presença não é decorativa, é espectral, é intergeracional.
Os figurinos de Kleber Montanheiro dialogam com a elegância de outra época, mas carregam marcas de uso e de dor — parecem memórias que o tempo não apagou. Já a direção de movimento de Kátia Barros opta por coreografias mínimas, suspensas, em que o gesto importa tanto quanto o som.
A cenografia de Renato Theobaldo transforma o palco em um espaço-tempo indefinido — entre o porto e o purgatório. Ainda que sua concepção tenha sido amplamente discutida, há um detalhe essencial a destacar: a tecelagem em tons de paixão, sustentada por cabos que evocam os de uma marionete. Suas cores variam camaleonicamente pela paleta conceptiva do designer de luz — como que impulsionadas pelos ventos, ou melhor, pelo pulsar das vozes.
A luminotecnia cênica de Wagner Freire atua como um pincel de atmosferas oníricas, enquanto a sonoplastia de Eduardo Pinheiro constrói um fundo emocional constante — discreto, mas pungente. O visagismo de Emi Sato contribui para essa sensação de seres entre mundos: maquiadas como quem já morreu, mas que ainda cantam. E encantam.
A música, sob a direção de Daniel Rocha, é a alma do espetáculo. Os arranjos transitam com fluidez assombrosa entre o samba-canção, a ópera, a canção francesa e a nova canção latino-americana. Não se trata de exibir talento técnico — mas de tornar visível o afeto, o trauma, a perda.
Território do Amor não obedece às regras dos musicais convencionais. Não é um espetáculo para entretenimento: é celebração e vigília. Um trabalho que parece dizer que o amor — em todas as suas formas — é o único personagem que nunca sai de cena. Um musical que aposta no sentimento como linguagem e no silêncio como parte da música.
É uma obra que dói. Mas também cura. Porque ver essas mulheres — de tantos cantos e tantas épocas — cantando juntas é lembrar que a dor partilhada se transforma. E que o amor, atravessado por tantas vozes, torna-se um continente inteiro.
Por Mauro Senna
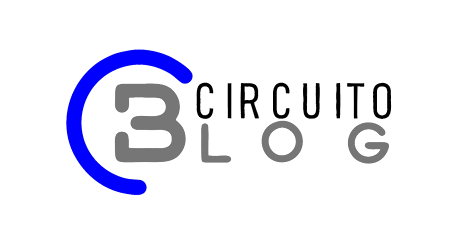



Comentários
Postar um comentário