Nosso Irmão
Há espetáculos que nos acolhem como uma manta quente. Nosso Irmão não é um deles. A peça de Alejandro Melero, dirigida com uma inquietante sobriedade por Dan Rosseto, nos recebe como um sofá antigo coberto de poeira, onde cada assento carrega o contorno invisível de um corpo ausente. É teatro como relíquia: algo que foi vivo, mas agora repousa embalsamado sob a forma de uma memória que fede a mofo e bolo de fubá. Aqui, o palco se torna um mausoléu afetivo — onde os laços de sangue parecem mais próximos de um pacto mal-ajambrado do que de qualquer ideia de amor.
O texto de Melero se desenrola como quem vasculha uma gaveta esquecida e encontra, entre santinhos e recibos antigos, uma carta de despedida nunca enviada. Sua dramaturgia trafega perigosamente entre o trivial e o epifânico, e o faz com uma destreza que mais parece um acidente emocional prestes a acontecer. Há algo de cruelmente doméstico em sua escrita — como uma briga sussurrada durante um velório.
Rosseto, por sua vez, dirige com uma frieza quase clínica. Seu trabalho é como o de um taxidermista: ele não quer reviver o bicho morto, apenas garantir que ele continue parecendo inteiro. A desordem calculada do espaço cênico denuncia o colapso interior de seus habitantes com mais eloquência do que qualquer diálogo. Não há concessão ao consolo, apenas uma exposição minuciosa daquilo que sobrou — e do que nunca foi.
O elenco é tão afinado quanto um coral de soluços. Regiane Alves, em sua personagem que quer vender a casa, parece sempre à beira de um colapso financeiro e existencial. Sua interpretação é uma súplica disfarçada de pragmatismo: o desespero de quem precisa apagar a história para continuar respirando.
Marina Elias paira sobre o palco como uma pergunta que nunca encontra verbo. Sua personagem é uma pausa desconfortável na conversa — uma tentativa de mediação que mais escancara o abismo do que o preenche.
Bruno Ferian, como Jacinto, entrega o que talvez seja o coração pulsante dessa carcaça de lar: uma presença tão intensa quanto opaca, como um espelho que se recusa a refletir. Sua performance não busca simpatia nem compreensão — apenas existência. E talvez seja exatamente isso que mais comove.
A cenografia de Kleber Montanheiro é o retrato de um luto mal resolvido: um lar que não foi esvaziado, apenas abandonado. Cada móvel parece carregar um grito engasgado. As paredes, se pudessem, pediriam para ser demolidas.
Os figurinos de Priscila Soares são fardas emocionais: cada peça de roupa é uma prisão delicadamente costurada, como quem veste personagens para um velório onde todos são ao mesmo tempo os mortos e os enlutados.
César Pivetti assina uma luz que não ilumina, mas flagra. Há algo de voyeurístico nos recortes que projeta — como se estivéssemos vendo algo que não deveríamos. Uma luz que revela mais as rachaduras do que os rostos.
Louise Helene encerra essa arqueologia familiar com um visagismo que parece dizer: todos aqui envelheceram tentando fingir que não estavam doendo.
Nosso Irmão é, em última análise, uma desconstrução cirúrgica da ideia de “família”. Uma peça que não quer confortar, mas corroer. Não há catarse, não há resolução. Apenas a constatação de que talvez não estejamos tentando manter viva uma memória — mas sim negar que ela, de fato, nunca existiu.
No fim, a peça não nos pergunta o que faremos com os restos. Ela nos encara e, com a frieza de quem já perdeu tudo, sussurra: os restos são vocês.
Por Mauro Senna
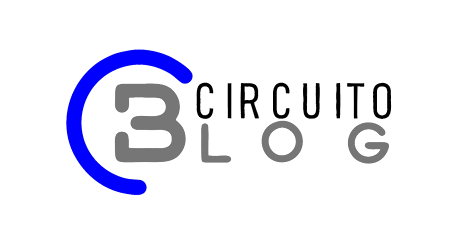



Comentários
Postar um comentário