Agora Inês é Morta
Há produções teatrais que sussurram; outras, que ferem. Agora Inês é Morta pertence a esse segundo grupo — um espetáculo que se infiltra pela pele do espectador com unhas sujas de passado, rasga o pano da cortina e costura a ferida com linha embebida em sangue antigo. Resta a dúvida: estamos diante de uma peça de teatro? Talvez sim. Mas, antes disso, o que se vê é um delírio embalsamado — uma experiência cênica que morde com os dentes de um século que ainda não aprendeu a cicatrizar.
Com cheiro de terra molhada e memória em decomposição, Agora Inês é Morta se anuncia como uma carícia cortante — inspirada na obra psicografada por Chico Xavier e moldada pelas mãos sarcásticas de Claudio Torres Gonzaga. Aqui, o amor entre Inês e Pedro não floresce: ele se dilacera, escorre pelos becos apertados da história, tropeçando em traições, jogos de poder e fantasmas que ainda não aprenderam a descansar.
Narrada pela própria Inês — sim, do além, porque a morte não lhe calou a língua nem o desejo —, a história acompanha os passos de uma mulher já cadáver, mas ainda amante, que insiste em restaurar, com palavras carregadas de saudade e obstinação, o vínculo dilacerado entre Pedro e seu pai — o rei. Inês, porém, não está só: ao seu lado, a espectral Santa Isabel acompanha a jornada, invocando, desde a eternidade, uma justiça bordada com fé, silêncio e culpa ancestral.
Contrariando o previsível, aqui a paixão triunfa — mas é uma vitória marcada pela febre, pela loucura e pelos vestígios da tragédia. Pedro, tomado pela dor e pelo desejo, transforma a morte em cerimônia pública: arrasta o corpo de Inês por entre pedras e olhares do reino, até enfim coroá-la como sempre foi — sua rainha eterna, mesmo que ausente de pulsos e respiros. E assim, Inês é coroada — não com pompa, mas com a poeira do tempo e a coroa de um amor que fede à eternidade.
Claudio Torres Gonzaga não escreveu uma dramaturgia — ele abriu uma fenda na História até alcançar os ossos de Inês, e deles extraiu não um texto, mas uma confissão em forma de espasmo. Uma elegia suada, escrita com a mão trêmula de quem ouviu demais e dormiu de menos. Gonzaga ousa espiritualizar a tragédia com a mão espalmada no barro: fala de reinos, mas o que exala é mofo. Aqui, o amor não é sublime — é viscoso. Pedro e Inês não se beijam; se devoram no limiar do limbo, com as bocas ainda sujas de juramentos e cova rasa.
Adriana Nunes, na direção, não apenas conduz — ela incorpora. Seu teatro não caminha, mas rasteja, flutua e assombra. Faz do palco um sepulcro iluminado por velas frias e do silêncio, um instrumento de invocação. Cada marcação de cena é um ritual; cada respiração, um exorcismo ao avesso — por onde o espírito entra, e ninguém ousa expulsar. Nunes não dirige atores: convoca entidades.
O elenco, por sua vez, não apenas atua: oferece sua essência como se a própria biologia fosse uma oferenda. Carne, gesto e voz se tornam instrumentos litúrgicos de um teatro que pede devoção. Adriana Nunes, em cena, transborda Inês com a delicadeza resignada de uma flor deixada sobre um túmulo que jamais foi esquecido. André Deca, como Pedro, se desfaz da técnica para dar lugar a uma catedral em ruínas. Seu semblante lamenta com os olhos — e isso basta. Já Rosanna Viegas, feita de ar e de saudade, sussurra como quem revela verdades que o mundo tentou enterrar sem reza.
Fernando Bueno não apenas pesquisou — ele desenterrou vozes. Fez da investigação um rito necromântico, capaz de violar criptas simbólicas e devolver à cena memórias que fingiam estar mortas, mas que ainda gritavam dentro das pedras. Já Marcello Linhos, à frente da luz e do som, rege os elementos técnicos como quem invoca tempestades. Sua música carrega o silêncio denso da água de cemitério, e sua iluminação não revela: insinua. Não mostra o que está em cena, mas aquilo que nunca deixou de estar ali — mesmo que ninguém mais tenha coragem de olhar. Nello Marrese, com figurino e cenário, veste palco e atores com a mesma reverência com que se cobre um corpo antes do velório. Seus tecidos têm o cheiro abafado de armário de convento, e seu cenário não constrói um tempo ou um lugar — cava um túmulo onde a História repousa, inquieta.
Agora Inês é Morta não é para todos. É para os que suportam ver o amor não como sonho, mas como praga. Não como redenção, mas como possessão incurável. Não é teatro que se aplaude — é teatro do qual se sobrevive. E ainda assim, com sequelas. Porque há histórias que pedem palco — e outras que exigem altar.
Por Mauro Senna
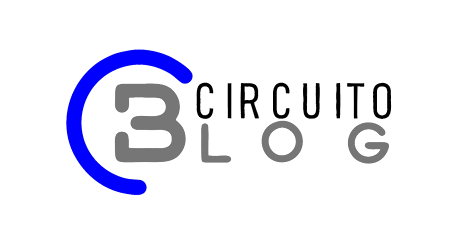



Comentários
Postar um comentário